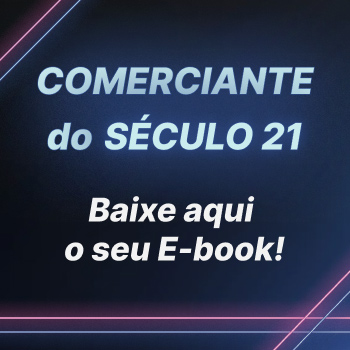O nome que merece
Há, com efeito, uma grande distância entre o que a população “compra” nas eleições e o que ela “leva” depois de instalados governo e legislatura

Que o Executivo tem boa parte da responsabilidade pelo caos em vias de se instalar no País, não há dúvida.
Jair Bolsonaro, como presidente eleito, errou ao empoderar pessoas despreparadas que, por atitudes e palavras, estão consumindo seu capital político e, por consequência, sua liderança como maior representante da autoridade pública, a quem cabe defender a ordem jurídica e a soberania nacional.
Mas é ingênuo acreditar que as reformas de que necessita o Brasil estariam avançando normalmente caso Bolsonaro exibisse qualidades do mais hábil articulador político, cercando-se dos melhores assessores e os ouvindo antes de tomar decisões importantes e, principalmente, de anunciá-las.
Por certo teríamos menos palco e picadeiro, mas nos plenários e comissões assistiríamos à mesma renitência, talvez mais empolada, em pensar, votar e julgar de acordo com o interesse público.
Esse é o pano de fundo sobre o qual se desenrola o drama da política brasileira: o esgotamento do seu sistema de representação.
Nossa sociedade é complexa, produzindo e se adaptando a novas circunstâncias, mas a despeito dessa pujança e flexibilidade, não consegue se articular. Não consegue se fazer representar no Estado que, na verdade, é ela politicamente organizada.
A despeito de a sociedade brasileira dispor dos mecanismos de uma democracia moderna, de imprensa livre e avançada e de instituições de um Estado de Direito democrático, a vontade que ela manifesta nas urnas não se reflete na ação dos representantes que escolhe.
Há, com efeito, uma grande distância entre o que a população “compra” nas eleições e o que ela “leva” depois de instalados governo e legislatura.
Algo que repetindo-se há décadas não poderia deixar de causar frustração e suscitar ideias exóticas, tais como o fechamento do Congresso e do STF, o cúmulo do impensável.
A origem dessa disfuncionalidade está no descaso com que tratamos nossa História, de onde poderíamos extrair as linhas mestras para um sistema de representação mais afim à nossa cultura e realidade. Na falta disso, os erros de diagnóstico não poderiam deixar de ser acachapantes.
Tem-se que o País é unitário, quando ele é, desde a sua formação, intrinsicamente federativo. Diz-se que o Executivo domina um Legislativo submisso, quando, na verdade, os dois estão ligados, há tempos, pela mais chã promiscuidade. É a partir daí que podemos enxergar as coisas da maneira como elas são.
Presentemente, vivemos o pior dos mundos.
Com o advento desta República, as agremiações políticas, ao se verem livres dos constrangimentos remanescentes do ciclo de generais presidentes, entenderam que poderiam ter, mais do que a livre fruição das prerrogativas de representação no Congresso, uma participação direta no poder, ao assumirem ministérios.
Consumou-se por essa via o mais vil acumpliciamento: dos que votavam o orçamento com os que o executavam, tudo operado pelo MDB e seus associados, que pôde se dar ao luxo de não governar explicitamente.
Aqueles partidos que decidiram fazê-lo tiveram que se compor com os caciques pemedebistas e aceitar o seu jogo: o inventivo PSDB com o presidencialismo de coalizão e o pouco imaginativo PT com o mensalão mesmo.
O regime político no Brasil não é um presidencialismo cognominado de imperial.
O que há é um arranjo pelo qual os maiores partidos no Congresso exercem o poder de fato, sem se sujeitar aos ônus de governo, como sua formação, definição de políticas e, principalmente, responsabilização pelos seus atos. Uma perversão que se estendeu, por caminhos diversos, ao Executivo e ao Judiciário.
Isso pode custar mais caro ainda ao País e já é mais do que tempo de lhe dar o nome que merece: parlamentarismo de extorsão.
**As opiniões expressas em artigos são de exclusiva responsabilidade dos autores e não coincidem, necessariamente, com as do Diário do Comércio